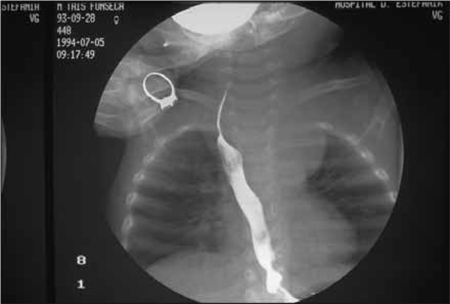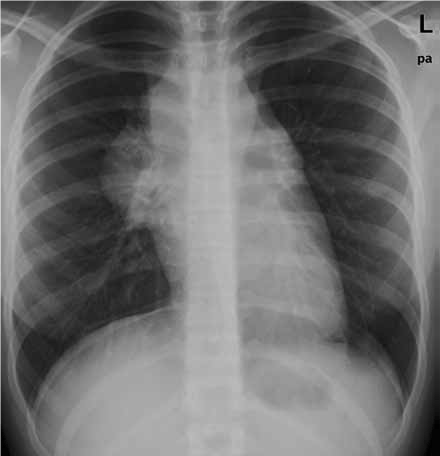Introdução
O eritrócito, para manter a sua integridade como transportador de oxigénio e dióxido de carbono durante cerca de 120 dias, possui um sistema metabólico. Durante o processo de maturação, perde a maioria das vias metabólicas características de qualquer outra célula, mantendo apenas as imprescindíveis para se defender dos agentes oxidantes e obter energia: – a via de Embden-Meyerhoff; – a via das pentoses-fosfato e; – a via dos nucleóticos.
- Via de Embden-Meyerhoff (glicólise anaeróbia): permite a obtenção de ATP e NADH a partir de degradação sucessiva da glicose, fonte de energia única e essencial para manter a integridade da membrana citoplasmática e o gradiente osmótico de sódio/potássio entre os espaços intra e extracelular. Esta dependência da glicólise anaeróbia resulta da inexistência de mitocôndrias onde decorre o ciclo do ácido tricarboxílico (ciclo de Krebs) e a fosforilação oxidativa. A obtenção de NADH garante que a meta-hemoglobina redutase mantenha o ferro hemoglobínico na forma ferrosa (Fe2+) e não na sua forma oxidada, férrica (Fe3+);
- Via das pentoses-fosfato: protege a hemoglobina da desnaturação oxidativa através da obtenção de NADPH. Este composto intermédio deriva da metabolização alternativa da glicose em 6-fosfogluconato pela glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). O NADPH mantém o glutatião, responsável pela reversão do dano oxidativo sobre a hemoglobina e outras proteínas eritrocitárias, na sua forma reduzida;
- Via dos nucleóticos: contribui para o balanço energético do eritrócito já que promove a produção de adenosina monofosfato (via das purinas) e a degradação de ribonucleótidos (via das pirimidinas).
A disfunção das várias enzimas envolvidas nestas vias metabólicas pode provocar anemia hemolítica congénita não esferocítica. Neste capítulo são descritos os défices enzimáticos (enzimopatias eritrocitárias) mais frequentes na população e com maior impacte na clínica, tendo em conta a sua relativa raridade.
As enzimopatias eritrocitárias com maior impacte clínico são o défice da glucose-6-fosfato desidrogenase, enzima representativa do metabolismo antioxidante, e o défice da piruvato-cinase, representativa da glicólise anaeróbia.
1. DÉFICE DE GLUCOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE
Importância do problema e genética
O défice de G6PD (também conhecido por favismo) é o defeito do metabolismo eritrocitário encontrado com maior frequência no mundo, afectando > 400 milhões de pessoas. Apesar disso, a maioria das isoenzimas com actividade reduzida associa-se apenas a um risco moderado para a saúde, não tendo impacte significativo na longevidade.
O défice de G6PD é o defeito enzimático mais frequente do eritrócito, do que resulta maior susceptibilidade aos oxidantes, relacionável com perda total ou parcial da capacidade redutora da referida enzima. Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo estejam afectadas, sendo na sua maioria assintomáticas.
Esta doença, também conhecida por “favismo” tem uma distribuição universal com maior prevalência nas regiões tropicais e subtropicais do Oriente, entre negros africanos Bantús, países da bacia oriental do Mediterrâneo e Médio Oriente (valores médios entre 8 e 30%).
Esta distribuição sobrepõe-se, em parte, às zonas endémicas de malária, o que é explicado pela vantagem de sobrevivência dos indivíduos com défice de G6PD infectados com Plasmodium falciparum com consequente selecção das variantes patogénicas.
Portugal é um país de baixa prevalência (cerca de 0,5%) sendo mais elevada nos distritos de Castelo Branco, Setúbal, Faro e Lisboa.
A hereditariedade é de tipo recessivo, ligada ao cromossoma X; assim, os indivíduos afectados são geralmente do sexo masculino.
O défice de G6PD, que se intensifica com o envelhecimento dos eritrócitos, resulta de mutações (em número > 100) dum gene altamente polimórfico localizado no braço longo do cromossoma X (locus Xq28); tal explica a maior prevalência no sexo masculino (hemizigotia).
Contudo, de acordo com o fenómeno aleatório de lionização (inactivação do cromossoma X), nas mulheres portadoras foram demonstradas duas populações de eritrócitos, uma normal, e outra com défice de G6PD. A expressão clínica é, portanto, dependente da percentagem de cromossomas X afectados que sofrem inactivação.
Estão descritas mais de 400 variantes genéticas da G6PD, sistematizadas de acordo com o grau de inactivação enzimática que provocam. Estas variantes resultam habitualmente de mutações pontuais ao longo das 18Kb que constituem o gene, provocando substituições de aminoácidos com impacte funcional variável sobre a enzima. A inexistência de grandes deleções ou mutações frameshift sugere que a ausência total de G6PD é incompatível com a vida.
Etiopatogénese
No eritrócito, célula anucleada sem mitocôndrias nem outros organelos, a G-6PD (aliás presente em todas as células) assume um papel particularmente importante: cataliza a oxidação da glicose-6-fosfato em 6-fosfoglicerato, reduzindo concomitantemente a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) em NADPH.
A NADPH, cofactor utilizado em muitas reacções biossintéticas, mantém o glutatião na sua forma reduzida (GSH).
Assim, o glutatião reduzido nos eritrócitos, actuando na neutralização de agentes que potencialmente oxidam a hemoglobina (Hb) ou os componentes da membrana eritrocitária, tem acção preventiva contra lesões resultante de oxidação, sendo que os eritrócitos estão frequentemente sujeitos a estresse oxidante.
Se não se formar o glutatião reduzido, a Hb precipita formando-se os chamados corpúsculos de Heinz; a membrana eritrocitária é lesada, com consequente diminuição da vida média do eritrócito predispondo a destruição prematura ou hemólise. A hemólise é principalmente intravascular nas formas agudas, e extravascular nas formas crónicas.
Uma noção importante a reter é a seguinte: a tendência para a hemólise e a gravidade da doença dependem do grau do defeito enzimático; por outro lado, há que atender ao facto de existirem muitas variantes genéticas (mais de 400) de G6PD a que correspondem actividades enzimáticas variáveis e espectro de manifestações clínicas também variáveis (desde exuberantes até mínimas ou irrelevantes). As variantes da G6PD são distinguidas com base na sua mobilidade electroforética.
A forma normal da enzima corresponde à variante B (Wild Type).
Entre mais de 400 variantes anormais identificadas, as mais comuns são as chamadas variantes A(-), A(+), e B(-) ou mediterrânicas.
A forma mediterrânica B(-), com genótipo designado por Gd Med/(B-), é mais comum em indivíduos originários de Portugal, da bacia do Mediterrâneo (sobretudo Grécia e Itália, Médio Oriente), do Irão, Índia e Paquistão. Nesta forma a actividade enzimática de indivíduos do sexo feminino homozigóticos e do sexo masculino hemizigóticos é inferior a 5%; os indivíduos do sexo feminino heterozigóticos evidenciam uma taxa de actividade enzimática entre 30-50%.
A forma A(-), com genótipo designado por Gd (A-), é mais frequente nos indivíduos originários de África, os quais evidenciam actividade enzimática entre 8-20%.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a relação entre o grau de actividade enzimática e o grau de hemólise é classificada do seguinte modo:
- Tipo I – Défice enzimático acentuado e anemia hemolítica crónica; situação rara;
- Tipo II – Défice enzimático acentuado e hemólise intermitente;
- Tipo III – Défice enzimático ligeiro a moderado e hemólise intermitente desencadeada por infecções, cetoacidose diabética, ingestão de favas, e por exposição a fármacos ou determinados agentes químicos;
- Tipo IV – Défice enzimático inexistente.
Factores etiológicos de lesão oxidativa e hemólise
Nas crianças a infecção e a ingestão de favas (favismo) constituem os principais eventos precipitantes, sobretudo em pacientes com a variante A(-). Os agentes infecciosos mais frequentemente implicados são E. coli, Salmonella, Streptococcus β-hemolítico, vírus Influenza, CMV e vírus das hepatites A, B, C, D, entre outros. No contexto de infecção, o efeito oxidativo da hipertermia e dos produtos da activação imune parecem estar na base da hemólise aguda. Admite-se que os eritrócitos deficientes em G6PD sejam menos resistentes à hipertermia mantida, não tolerando o aumento do teor de oxidantes produzidos pelos granulócitos durante o processo de fagocitose.
Os efeitos da ingestão de favas/Vicia faba (favismo) verificam-se na variante mediterrânica ou B(-). O grau de hemólise é variável de exposição para exposição, sendo mais susceptíveis a esta situação os indivíduos mais jovens, sobretudo se existir infecção concomitante. São comuns em locais onde o défice de G6PD é acentuado e onde as favas são um alimento popular (Sul da Europa, Médio Oriente e Sudeste Asiático).
A hemólise induzida por fármacos foi inicialmente descrita associada à primaquina.
Entretanto, outros fármacos ou agentes químicos foram implicados: analgésicos e antipiréticos, antimaláricos, drogas cardiovasculares, citotóxicos e antibacterianos, sulfonamidas e sulfonas, naftalina, azul de toluidina, trinitrotolueno, etc.. O risco e a gravidade relacionam-se com o tipo de substância em causa, dose e duração da actuação. Na sua forma clássica, a hemólise inicia-se com a exposição ao agente desencadeante.
De acordo com o Quadro 1, os efeitos dos fármacos e substâncias dependem do tipo de fármaco ou substância, e do tipo de défice de G6PD.
QUADRO 1 – Perfil de segurança de vários fármacos e substâncias usados em doentes com défice de G6FD
| Fármacos/substâncias provavelmente lesivas no contexto de G6FD moderado a grave (Tipo I-III) | |
| Anti-infecciosos | Dapsona, Nitrofurantoína, Primaquina |
| Diversos | Azul de metileno, Azul de toluidina, Rasburicase |
| Exposições químicas e alimentos | Corantes de anilina, Naftaleno, Favas, Compostos de Henna (e corantes relacionados) |
| Fármacos previamente considerados lesivos, mas provavelmente não lesivos nas doses terapêuticas usadas no contexto de G6FD (Tipo II-III)* | |
| Analgésicos | Paracetamol, Ácido acetilsalicílico, Aminofenazonas (Metamizol) |
| Anti-infecciosos | Antimaláricos (Cloroquina, Quinino), Fluoroquinolonas (Ciprofloxacina, Levofloxacina, Norfloxacina, Ofloxacina), Sulfonamidas (Trimetoprim-Sulfametoxazol), Cloranfenicol, Isoniazida |
| Diversos | Ácido ascórbico, Glibenclamida, Hidroxicloroquina, Dinitrato de isosorbida, Mesalazina, Sulfasalazina |
| Fármacos geralmente considerados não lesivos nas doses terapêuticas usadas no contexto de G6FD (Tipo II-III)* | |
| Diversos | Colchicina, Doxorubicina, Levodopa, Carbidopa, Ácido para-aminobenzóico, Fenacetina, Procainamida, Pirimetamina, Estreptomicina, Vitamina K |
| Nota: não lesivo <> acção moderada quanto a provocar crises hemolíticas; lesivo <> acção intensa idem |
Manifestações clínicas
Na grande maioria, os portadores da deficiência enzimática de G-6PD são “aparentemente saudáveis”; nalguns casos surgem crises agudas de anemia hemolítica relacionáveis com a exposição a determinados agentes atrás referidos, a administração de fármacos, ingestão de favas ou outras leguminosas, ou a verificação de certos estados mórbidos, designadamente infecções.
A gravidade da hemólise depende da variante em causa, do nível de actividade enzimática nos eritrócitos e do tipo e intensidade da agressão oxidativa (ou oxidante). As formas clínicas de apresentação podem ser as seguintes:
1. Anemia hemolítica aguda
Nesta situação, típica da forma mediterrânica A(-), verifica-se crise de hemólise intravascular desencadeada por estresse oxidante (por exemplo, exposição a agentes oxidantes como primaquina, sulfamidas, entre outros, ou por ingestão de favas).
Salienta-se, em plena saúde aparente, o aparecimento de irritabilidade, letargia, febre, sintomas gastrintestinais e colúria (urina de cor de vinho do Porto).
O exame objectivo evidencia palidez, icterícia, taquicárdia e, nos casos mais graves, evolução aguda para choque hipovolémico ou, menos frequentemente, insuficiência cardíaca. Destaca-se ainda a presença de hepatosplenomegália moderada.
Através dos exames laboratoriais comprova-se anemia normocrómica e normocítica, moderada a extremamente grave (Hb atingindo, por vezes, valores de 2,5 a 4 g/dL) com anisocitose e poiquilocitose marcadas. A reticulocitose acentuada (por vezes ultrapassando 30%) torna-se evidente como resposta eritropoiética por volta do 5º-7º dia após início do quadro de hemólise aguda.
A presença de corpúsculos de Heinz nos eritrócitos (complexos de Hb desnaturada) é patognomónica. No entanto, a sua observação é, em geral, transitória, já que os respectivos eritrócitos são rapidamente removidos da circulação. A análise sumária da urina revela colúria e hemoglobinúria.
A principal complicação é a insuficiência renal aguda por necrose tubular.
O grau de hemólise traduz a gravidade da doença, variando, como foi dito, com o tipo e intensidade da exposição ao agente desencadeante e com a gravidade de deficiência enzimática.
Habitualmente trata-se de situação autolimitada com tendência para a regressão espontânea, com normalização do valor de Hb entre três a seis semanas; com efeito, com a regeneração eritrocitária pós-crise reticulocitária atrás mencionada, verifica-se, como atrás foi referido, que a actividade da G6PD é mais elevada nos eritrócitos mais jovens.
2. Icterícia neonatal
Trata-se duma forma de apresentação possível no recém-nascido (RN), ocorrendo, na sua maioria, na ausência de exposição a agentes oxidantes.
No entanto, a ingestão de drogas oxidantes pela grávida (situação por vezes não inquirida na anamnese) poderá originar manifestações no feto/RN deficiente em G6PD.
Assim, o défice de G6PD neste período etário, associado a outros factores que se somam e também predispõem à hemólise (baixos níveis de vitamina E e da redutase da metemoglobina) pode traduzir-se de duas formas:
- Forma predominantemente ictérica: trata-se de quadro de icterícia de grau variável, em geral surgindo entre o 2º e 3º dia de vida (raramente nas primeiras 24 horas), mais importante do que a anemia; no entanto, a hiperbilirrubinémia não conjugada, se for muito acentuada e não correctamente tratada (exsanguinotransfusão), poderá originar encefalopatia (kernicterus). Esta forma ocorre em diversas variantes;
- Forma predominantemente anémica: o quadro clínico é o de anemia aguda por hemólise relacionável com exposição a agente (incluindo naftalina na roupa), medicamento, ou infecção; uma variante descrita resulta da exposição a favas ou fármacos oxidantes ingeridos pela grávida.
Numa e noutra forma a hepatosplenomegália poderá não estar presente.
3. Anemia hemolítica congénita crónica
Esta forma de apresentação (surgindo inicialmente como icterícia inexplicada), em pacientes com a variante mediterrânica (B-), ocorre invariavelmente no sexo masculino. No período neonatal poderá estabelecer a indicação de exsanguinotransfusão. Como particularidade em relação à forma anterior, importa salientar que, após a exsanguinotransfusão, a anemia reaparece e a icterícia não regride (hiperbilirrubinémia crónica).
Em muitos casos, o diagnóstico faz-se mais tarde, face à verificação de litíase biliar.
A anemia normocrómica, associada a reticulocitose acentuada é variável, não se observando alterações da morfologia dos eritrócitos.
Exames complementares
Uma vez realizados a anamnese (com ênfase para os antecedentes familiares) e o exame objectivo, importa salientar como noções genéricas, as seguintes: o diagnóstico da maioria das enzimopatias eritrocitárias em geral é, em parte, de exclusão, baseando-se: na prova de Coombs directa negativa, na prova de avaliação da fragilidade osmótica normal, na ausência de anomalias morfológicas eritrocitárias, designadamente esferócitos (excepto identificação de degmócitos – ver adiante), e na ausência de hemoglobinas anormais.
Para o diagnóstico de portadores da deficiência de G6PD podem utilizar-se técnicas qualitativas ou quantitativas com as quais é possível demonstrar diminuição ou ausência da actividade enzimática.
O doseamento da actividade enzimática é efectuado por medição da cinética enzimática. Pela avaliação directa, tal actividade em indivíduos afectados é igual ou inferior a 10%. Para tal avaliação importa conhecer os valores absolutos de referência:
- 4,5 a 8,5 UI/g de Hb até um ano de idade.
- 3,5 a 5,5 UI/g de Hb após um ano de idade.
Diferentes estudos de biologia molecular permitem conhecer a sequência de ADN do gene que codifica a G6PD para identificação das variantes. A identificação de uma mutação patogénica estabelece o diagnóstico definitivo, permite aconselhamento genético e, em casos graves, o diagnóstico pré-natal.
No estudo da morfologia do sangue periférico podem ser identificados os chamados eritrócitos “mordidos” ou degmócitos. Poderá existir ou não anemia e reticulocitose.
A colheita de sangue não deve ser efectuada durante as crises hemolíticas ou processos infecciosos, uma vez que, em tais circunstâncias, a destruição dos eritrócitos mais deficientes em G6PD, a elevação do número de reticulócitos e de leucócitos (células ricas na enzima em causa) podem alterar os resultados; igualmente acontece após transfusão de sangue (dador contendo G6PD com actividade normal).
Tratamento e prevenção
Não existe tratamento específico. A transfusão de concentrado eritrocitário apenas está indicada no favismo agudo e nas situações em que se verifique repercussão hemodinâmica da anemia.
No período neonatal importa seguir as normas de actuação em caso de hiperbilirrubunémia. (Parte XXXI)
A esplenectomia apenas está indicada em presença de hiperesplenismo, contudo, não está provado o seu benefício.
No que respeita à prevenção, importa evitar as fontes potenciais de agentes oxidantes (nomeadamente ingestão de favas), incluindo as relacionadas com o tratamento das infecções; de salientar que a evicção daqueles contribui para a prevenção e/ou para reverter a situação.
No contexto da variante A(-), em que surge infecção, o uso de doses usuais de ácido acetilsalicílico (AAS) e TMP-SMX não provocam hemólise importante. No entanto, doses de AAS para tratamento da febre reumática (60-100 mg/kg/dia) podem originar episódio hemolítico grave. (ver Quadro 1)
O rastreio no recém-nascido apenas se justifica nos países com elevada prevalência do defeito enzimático.
Na forma clínica de anemia hemolítica crónica, em geral não é requerido o suporte transfusional. No entanto, há que atender à necessidade de vigilância clínica rigorosa, implicando nomeadamente o alerta para a eventualidade de intercorrência oxidativa (infecção ou ingestão de certos fármacos) susceptível de agravar a anemia. Nos casos com esplenomegália não está provado benefício da esplenectomia.
2. DÉFICE DE PIRUVATO CINASE (PK)
Importância do problema e hereditariedade
O défice de piruvatocinase (PK) é a enzimopatia mais frequente, a seguir ao défice de G6PD. No cômputo geral das anemias hemolíticas hereditárias, é a mais frequente, a seguir à esferocitose.
A sua frequência média é estimada em cerca de 5 casos por milhão de habitantes de raça caucasiana, com predomínio nos países do norte da Europa e em comunidades com elevada consanguinidade.
O mecanismo de transmissão é autossómico recessivo, sem predomínio de sexos; a expressão da doença observa-se sobretudo em indivíduos homozigóticos ou de dupla heterozigotia, isto é, portadores de dois genes com diferente tipo de mutação; a possibilidade de combinações muito variadas de genes alterados explica a variabilidade de manifestações (conhecidas mais de 220 mutações do gene PKLR associado a défice de PK).
Não parece existir relação entre a localização da mutação no gene, a actividade residual da PK, o grau de hemólise e a gravidade do quadro clínico. (ver adiante)
Do défice de PK resulta aumento do 2,3-DPG (2,3-difosfoglicerato) eritrocitário com consequente incremento na distribuição de oxigénio aos tecidos, desligando-se da Hb. Este fenómeno (diminuição da afinidade O2-Hb) tem implicações clínicas: menor fadiga e maior tolerância ao esforço, apesar da anemia.
Manifestações clínicas
O quadro clínico associado a esta patologia é altamente variável: desde hemólise crónica compensada, a anemia hemolítica grave com icterícia e esplenomegália, dependente de suporte transfusional. No RN a apresentação pode ser uma forma grave, com hiperbilirrubinemia e hidropisia. Em cerca de 80% dos casos a apresentação verifica-se em idade pediátrica, sendo que nalgumas crianças a anemia melhora com o crescimento.
As complicações são as próprias da hemólise crónica: maior incidência de litíase biliar, sobrecarga férrica, designadamente em doentes não transfundidos, anemia normocrómica e macrocítica, crises aplásticas transitórias, eritroblastopenia, défice de folatos, etc..
No sexo feminino, o quadro clínico inicial manifesta-se, por vezes, no decurso da gravidez ou de infecção intercorrente, realçando-se que nesta doença a hemólise não é desencadeada por estresse oxidante.
Exames complementares
O exame hematológico clássico revela parâmetros compatíveis com anemia hemolítica não esferocítica e reticulocitose acentuada.
O estudo morfológico do sangue periférico evidencia ocasionalmente macrócitos, eritrócitos espiculados e raros acantócitos, ovalócitos, eliptócitos e policromasia.
Dada a possibilidade de crises aplásticas, poderá ser identificado quadro compatível com pancitopénia.
O diagnóstico definitivo baseia-se na demonstração da actividade enzimática (PK) diminuída (5‑40% na maioria dos doentes, tipicamente < 25%). No entanto nos casos de heterozigotia e de algumas variantes, a actividade é normal ou pouco reduzida in vitro. O diagnóstico nestes casos depende da caracterização genética de uma mesma mutação patológica em homozigotia ou de 2 mutações patológicas diferentes.
Como os leucócitos têm actividade normal da PK, devem ser eliminados do hemolisado quando se pretende determinar a actividade da referida enzima eritrocitária.
Tratamento
A exsanguinotransfusão está indicada nas situações de hiperbilirrubinémia neonatal grave.
Nos casos de anemia crónica e grave com necessidade de regime transfusional frequente (cada 4 a 8 semanas), está indicada a esplenectomia, a realizar após os 5-6 anos. Salienta-se o efeito benéfico da esplenectomia: redução franca, ou até eliminação, da necessidade transfusional e subida da hemoglobina basal em 1-3 g/dL; é ainda notado um aumento da reticulocitose (que pode atingir 40-60%), possivelmente por redução da apoptose eritróide no baço. (ver atrás)
Nos casos de crises aplásticas estão indicados os procedimentos descritos a propósito deste tópico.
A mortalidade relacionada com a sépsis pneumocócica, meningocócica ou por Hemophilus influenzae pós-esplenectomia, torna obrigatória a aplicação das respectivas imunizações (hoje correntes) e a profilaxia com penicilina após a esplenectomia.
3. DÉFICE DE PIRIMIDINA-5’-NUCLEOTIDASE
A deficiência hereditária de pirimidina-5’-nucleotidase (P5N) é a terceira enzimopatia hemolítica mais frequente. Esta enzima integra a via metabólica dos nucleótidos (especificamente das pirimidinas) participando na degradação de ARN no reticulócito. No défice de P5N verifica-se acumulação de nucleótidos pirimidínicos que formam agregados insolúveis visíveis sob a forma de ponteado basofílico no esfregaço de sangue periférico.
Este achado não é específico, uma vez que a intoxicação por chumbo, um potente inibidor da P5N, também se associa à presença de ponteado basofílico nos eritrócitos. É fundamental distinguir estas entidades devido ao carácter reversível da segunda.
O défice de P5N é transmitido de forma autossómica recessiva e provoca anemia hemolítica crónica ligeira a grave, esplenomegália e icterícia. Vários métodos estão descritos para determinar a actividade eritrocitária de P5N. No entanto estes não são reprodutíveis, não sendo usados na prática clínica.
Uma prova de rastreio baseia-se no doseamento de nucleótidos purínicos e pirimidínicos. Um ratio purinas/pirimidinas reduzido pode ser sugestivo de défice de P5N. De salientar, contudo, que apenas a caracterização genética confirma o diagnóstico. Na ausência de tratamento específico, a actuação é sobreponível à das restantes anemias hemolíticas crónicas.
4. OUTRAS ENZIMOPATIAS RARAS
As restantes enzimopatias associadas à via glicolítica, raras, incluem-se no grupo das anemias hemolíticas congénitas não esferocíticas.
O esfregaço de sangue periférico é habitualmente incaracterístico. Estas enzimopatias eritrocitárias, sobretudo as mais raras, resultam em fenótipos muito diversos que se associam não apenas a anemia hemolítica, mas também a metemoglobinemia, policitemia e a alterações neurológicas e do neurodesenvolvimento.
Tal pode ser explicado pelo facto de estas enzimas glicolíticas terem várias funções não enzimáticas, como regulação da transcrição, estimulação da motilidade celular e controlo da apoptose. Outra explicação possível é o facto de os mesmos genes codificarem também isoenzimas com expressão e função noutros tecidos.
O Quadro 2 sintetiza as características clínicas mais típicas associadas a estas enzimopatias.
QUADRO 2 – Enzimopatias raras da via de Embden-Meyerhoff
Defeito enzimático | Prevalência | Hereditariedade | Anemia hemolítica | Outras manifestações |
Hexocínase (HK) | Rara | Autossómica recessiva | Sim | Redução 2,3 DPG com fraca tolerância à anemia; Malformações congénitas e atraso psicomotor nalguns doentes, sem relação provada com o défice de HK |
Glicose fosfato isomerase | O segundo defeito da via glicolítica mais comum | Autossómica recessiva | Sim | Leucopenia e trombocitopenia |
Fosfofrutocinase (Doença de Tauri ou Glicogenose tipo VII | Rara | Autossómica recessiva | Variável | Miopatia agravada com o exercício |
Aldolase | Muito rara | Autossómica recessiva | Sim | Miopatia |
Triosefosfato isomerase | Rara | Autossómica recessiva | Sim | Doença grave com envolvimento frequente de outros órgãos e alterações neuromusculares, cardíacas e infecciosas frequentes |
Fosfoglicerato cinase | Rara | Ligada ao X | Sim, habitualmente | Atraso de desenvolvimento com disfunção neurológica e perturbações comportamento |
Enolase | Muito rara | Autossómica dominante | Sim | Agravamento da anemia com estresse oxidativo |
Desidrogenase láctica | Muito rara | Autossómica recessiva | Não | Miopatia |
Adaptado de Dario Tavazzi, et al, 2008 | ||||
BIBLIOGRAFIA
Grace RF, Glader B. Red blood cell enzyme disorders. Pediatr Clin North Am 2018; 65: 579-596
Hoffman R, Benz EJ, Silberstein, et al (eds). Hematology: Basic Principles and Practice. Philadelphia: Elsevier, 2018
Kliegman RM, Stanton BF, StGeme JW, Schor NF (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015
Koralkova P, van Solinge WW, van Wijk R. Rare hereditary red blood cell enzymopathies associated with hemolytic anemia – pathophysiology, clinical aspects, and laboratory diagnosis. Int J Lab Hematol 2014; 36: 388-397
Luzzatto L, Arese P. Favism and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. N Engl J Med 2018; 378: 1068-1069
Martinov MV, Plotnikov AG, Vitvitsky VM, et al. Deficiencies of glycolytic enzymes as a possible cause of hemolytic anemia. Biochim Biophys Acta 2000; 1474: 75-87
Moro M, Málaga S, Madero L (eds). Cruz Tratado de Pediatria. Madrid: Panamericana, 2015
Rudolph CD, Rudolph AM, Lister GE, First LR, Gershon AA (eds). Rudolph´s Pediatrics. New York: McGraw-Hill Medical, 2011
Stefan DC, Rodriguez-Galindo C (eds). Pediatric Hematology-Oncology in Countries with Limited Resources. Berlin: Springer, 2014
Tavazzi D, Taher A, Cappellini MD. Red blood cell enzyme disorders: an overview. Pediatr Ann 2008; 37: 303-310
Zanella A, Fermo E, Bianchi P, Valentini G. Red cell pyruvate kinase deficiency: molecular and clinical aspects. Br J Haematol 2005; 130: 11-25